por Maxime Robin
No balcão de um check casher, ao longo da Broadway, uma artéria do Brooklyn Central sombreada pelo metrô aéreo de Nova York, Carlos Rivera pede mais prazo. “No tengo los 10 pesos”, diz à funcionária atrás do vidro. No Brooklyn, essas lojas estão por toda parte: as páginas amarelas registram 236. São reconhecidas pelas fachadas coloridas e decrépitas, por seus letreiros em neon, pelo símbolo do dólar e pela palavra cash nas vitrines. Além de transferências de dinheiro vivo, descontam cheques cruzados de moradores que não têm conta bancária: o montante é convertido em espécie mediante comissão (cerca de 2% para US$ 100, mais taxas). As lojas oferecem também empréstimos a curtíssimo prazo com juros altíssimos.
Em escala nacional, esses milhares de muquifos formam uma indústria financeira poderosa, multiforme, designada pelo termo genérico predatory lenders ou “emprestadores vorazes”, nome devido a um modelo comercial agressivo: o devedor jamais se safa, pois frequentemente tem de pagar um empréstimo anterior com um novo.
Mais caixas que no McDonald’s
Apesar de seu sucesso fulgurante, esses prestamistas sem escrúpulos não são vistos com bons olhos no país. Os estados tentam de todos os modos regulamentar suas atividades. O produto financeiro mais devastador é proibido no estado de Nova York, mas legal na Califórnia: trata-se do payday loan, “empréstimo consignado”, isto é, de ultracurto prazo (quinze dias no máximo), que se liquida no dia do recebimento do salário com juros extorsivos. Um cliente pode, assim, obter um empréstimo de US$ 300, que reembolsará no valor de US$ 346.
Essa indústria, que há duas décadas não existia, teve um lucro de US$ 46 bilhões em 2014. Há hoje nos Estados Unidos mais check cashers do que McDonald’s e Starbucks juntos. O Center for Responsible Lending (Centro para o Empréstimo Responsável [CRL]), encarregado de documentar seus abusos, estimava, quando foi criado, em 2002, que o lucro total desses empréstimos chegava a US$ 9,1 bilhões em juros dos mais variados tipos e em execuções de penhora no caso de insolvência. Treze anos depois, ele se declara incapaz de calcular o impacto do negócio: “O total alcança centenas de bilhões de dólares”, informou o Centro, alarmado, em junho. “Isso afunda a vida de milhões de norte-americanos, mas também a do país como um todo.”1
Um pobre nos Estados Unidos já paga muito por qualquer coisa: prestações, alimentação, seguros.2 O conceito de poverty penalty (punição da pobreza) não é novo: David Caplovitz elaborou essa teoria em 1967 num texto de sociologia que se tornou clássico, The Poor Pay More.3 Sua análise continua pertinente. “Os pobres pagam mais por um litro de leite e por moradias de qualidade inferior”, denunciava em 2009 Earl Blumenauer, deputado democrata pelo Oregon. Os 37 milhões de norte-americanos que vivem abaixo do limite de pobreza e os outros 100 milhões que se debatem para integrar a classe média “pagam por aquilo que a burguesia considera um direito”.4
Apenas um exemplo: segundo um relatório da Consumer Federation for America, a associação dos consumidores local, as tabelas das principais companhias de seguros de automóveis dão mais importância ao nível de estudos e à situação profissional dos clientes do que à confiabilidade de sua condução. Em dois terços dos casos examinados, “os bons motoristas pobres pagam mais [cerca de 25%] do que os ricos que já provocaram acidentes”.5 “É preciso ser rico para levar vida de pobre”, ironizou o Washington Post,6 catalogando as pequenas coisas da vida que castigam os trabalhadores sem dinheiro: tempo perdido nos transportes, filas de espera de todos os tipos para serviços de qualidade inferior etc. Não há tempo para o lazer nem direito ao erro.
Essas vidas de marionete assumem por vezes um contorno trágico, como a de Maria Fernandes, morta em setembro de 2014 dentro de seu carro num estacionamento de Nova Jersey. Funcionária havia quatro anos da rede de lanchonetes Dunkin’ Donuts, a mulher de 32 anos acumulava três turnos (tarde, noite e fim de semana) em três estabelecimentos diferentes para garantir a educação da filha e ganhar o salário mínimo então em vigor no estado de Nova Jersey: US$ 8,25 por hora. Alugava, por US$ 550, um apartamento mobiliado onde raramente dormia. Descansava dentro do carro mesmo, com o motor e o ar-condicionado ligados para refrescar o habitáculo, onde guardava uma lata de gasolina no banco traseiro. A lata virou acidentalmente durante um de seus cochilos, espalhando emanações tóxicas que a asfixiaram. Um porta-voz da Dunkin’ Donuts prestou-lhe homenagem num comunicado em que a chamava de “funcionária-modelo”.7
Voltemos ao check casherdo Brooklyn. A moça do guichê propôs um acordo a Carlos: ele poderia saldar sua dívida no dia seguinte. Tratava-o pelo primeiro nome: ele era, portanto, um cliente habitual. Aliviado, ele deu um telefonema, prometeu em inglês que não deixaria de pagar e saiu empurrando um carrinho de supermercado pelas ruas. Encheu-o de garrafas para reciclagem; os supermercados da área lhe pagavam 10 centavos por unidade. Vivia também de bicos “na construção”. Tivera conta num banco, mas já nem se lembrava de quando fora isso.
Os estabelecimentos financeiros instalam menos agências nos bairros de baixa renda. A área definida pelo código postal de Rivera, Stuyvesant Heights, tem apenas duas para 85 mil habitantes: um deserto bancário, igual a outros 650 país afora.8 Num paradoxo vertiginoso, Stuyvesant Heights se situa a apenas dez estações de metrô de Wall Street, o centro nevrálgico das finanças mundiais. “Não é vantajoso, para os bancos, abrir agências em bairros desfavorecidos”, explica Lisa Servon, professora de políticas urbanas na New School de Nova York. “Ali, os moradores são mais um fardo que uma fonte de lucros. Não depositam dinheiro e passam tempo demais no guichê. Os bancos querem o inverso: clientes que eles não veem nunca e que fazem depósitos.”
Os check cashers substituíram então os bancos nos bairros pobres, adotando um modelo econômico baseado na familiaridade, na diversificação de serviços (venda de cartões para celulares pré-pagos, loterias...) e em porcentagens cobradas a cada transação. “Os bancos querem um só cliente rico com US$ 1 milhão; nós queremos 1 milhão de clientes pobres com um dólar”, resume sem rodeios Joe Coleman, presidente da RiteCheck, importante rede com doze lojas no Bronx e no Harlem.9 Para os pobres, esses estabelecimentos são o último recurso antes dos empréstimos informais de rua, com seus riscos e desvantagens, fora do esquema legal, junto aos loan sharks (agiotas). Estes, ligados à pequena ou grande criminalidade, recorrem à violência para recuperar as somas emprestadas, sobrecarregadas de juros.
Servon nota igualmente que as comunidades de imigrantes de Nova York, em particular as hispânicas, mas também as senegalesas e árabes, importaram um método informal de microcrédito com taxa zero. O princípio é simples: várias pessoas investem uma pequena quantia numa conta comum. “Toda semana, segundo um sistema rotativo, um investidor diferente fica com o total”, explica a professora, que estuda esses círculos de crédito alternativos sem poder ainda avaliar seu número ou seu peso econômico.
Se os pobres não atraem o Chase ou o Bank of America, a recíproca também é verdadeira, segundo os trabalhos de Servon. “Os pobres preferem os check cashers porque pagariam ainda mais aos bancos em custos operacionais e ágio”, explica. Os bancos são mais gulosos e não concedem créditos pequenos a curto prazo, convenientes aos pobres. Cada estabelecimento dispõe de um arsenal médio de 49 sanções possíveis para as contas correntes: ultrapassar, mesmo que pouco, o limite autorizado pode acarretar penalidades sem fim. Conforme as estatísticas obtidas junto aos dez maiores bancos norte-americanos pela Federal Deposit Insurance Corporation – o organismo que garante os bancos –, metade dos saques sem fundos é provocada por despesas inferiores a US$ 36. Se esses saques forem considerados empréstimos a curto prazo, os juros chegarão a taxas que mal se podem imaginar: 5.000% ao ano.
Em 2011, os bancos dos Estados Unidos tiveram um lucro de US$ 38 bilhões apenas com ágio.10 “Eles estão ficando cada vez mais caros”, comenta Servon. “A instabilidade financeira dos norte-americanos aumentou e suas rendas se tornaram voláteis. As pessoas acumulam empregos, tentam arranjar tempo de qualquer jeito. Seus holerites não chegam com o mesmo valor ao fim de cada mês. Não têm poupança. Não têm dinheiro. Ficam no vermelho regularmente e as multas se acumulam.” Não é raro encontrar quem, com salário estável antes da crise, agora trabalhe em dois empregos de meio expediente, remunerados por hora. Os gastos com saúde, educação e creche explodiram, e “os empregadores já não oferecem vantagens sociais, enquanto as despesas aumentaram. Não há margem de erro... Aí é que está o problema”.
Um norte-americano comum é um endividado que paga suas contas pontualmente. Longe dos radares do sistema bancário, perto de 10 milhões de lares não dispõem de um instrumento essencial para gozar de status social nos Estados Unidos: o credit score (cota de crédito). Esse número de três algarismos começa geralmente em 300 (bastante medíocre) e se estabiliza em 850 (muito bom), com variantes que vão de 100 a 990, conforme o estabelecimento. É uma identificação pessoal tão importante quanto o número do seguro social. Desconhecida fora dos Estados Unidos, a cota de crédito condiciona a vida inteira de um cidadão norte-americano. Ela atesta se a pessoa paga suas contas em dia e é suficientemente digna de confiança para contrair empréstimos.
De início usado pelos bancos para empréstimos imobiliários, a cota de crédito pode ser consultada por lojas, seguradoras, donos de imóveis para alugar ou por um empregador em potencial. Uma boa cota é motivo de orgulho. Ela se imiscui até nos sites de encontros pela internet, permitindo julgar se a situação financeira do pretendente é saudável o bastante para que valha a pena conversar com ele.11 Uma fatura em atraso afeta-a imediatamente; se os problemas se acumulam, ela vai por água abaixo e os bancos se dão o direito de aumentar seus juros.
O pior é a exclusão bancária para quem não conseguiu perfazer uma “cota de solvência”: ele fica então com um “crédito invisível”. As portas se fecham; a vida se torna mais cara e complicada. Segundo um relatório do Consumer Financial Protection Bureau (Agência de Proteção Financeira do Consumidor), 30% da população dos bairros de baixa renda está excluída do crédito. Essa marca de infâmia afeta principalmente negros e hispânicos: 15%, contra 9% de brancos e asiáticos.12
Enquanto a Europa privilegia a poupança, a sociedade norte-americana estimula vigorosamente o crédito.13 O endividamento das famílias aumenta a olhos vistos. Não ter dívidas é sinal de má situação financeira. Hoje, cada família possui em média oito cartões de crédito e, segundo o Urban Institute, seus gastos se elevam a US$ 15 mil.
Um fato ocorrido no final dos anos 1980 abalou, sem fazer muito alarde, as estruturas econômicas antigas:14 a desregulamentação da taxa de usura, ou seja, a eliminação do teto máximo de juros bancários. Isso permitiu a um grande número de norte-americanos o acesso ao empréstimo; em contrapartida, os bancos obtiveram o direito de fixar as taxas de juros dentro de uma opacidade quase total. O número de falências individuais cresceu astronomicamente e o crédito ao consumidor atingiu níveis jamais vistos desde a Grande Depressão. “É a única indústria capaz de agir assim”,15 insurgiu-se em 2004 Elizabeth Warren, membro da ala esquerda do Partido Democrata que durante toda a sua carreira denunciou os abusos das empresas de crédito. Ela inspirou em 2010, depois da crise, a criação da Agência de Proteção Financeira do Consumidor, um órgão federal. Durante muito tempo, foi professora de direito financeiro em Harvard. Para ilustrar a opacidade da indústria bancária, Elizabeth se declara incapaz, ela própria, de calcular os juros dos empréstimos que contraiu.
Dívidas para garantir a sobrevivência
Os membros da classe média e os que trabalham para um dia pertencer a ela continuam sendo a principal fonte de lucros dos bancos, em virtude das dificuldades que encontram para pagar seus empréstimos e das multas que se acumulam. Para Warren, são eles que carregam nos ombros a indústria do crédito: “As pessoas em má situação, à beira da falência, que só podem pagar o mínimo da fatura, que pagam com atraso, que passam de vez em quando um cheque sem fundos, que vez por outra não saldam uma dívida...”.16
No Oregon, a enfermeira Claire Shrout, casada e mãe de dois filhos, pertence a essa categoria. Um contratempo desarranjou sua vida familiar: o câncer do marido, quando ela estava grávida do segundo filho. “Quando dei à luz, meu marido acabara de fazer sua quimioterapia”, conta. Claire nunca conseguiu poupar e fazer um fundo de reserva por causa dos empréstimos contraídos durante seus anos de estudo: “Milhares de dólares, todos os meses, desapareciam com o pagamento de faturas”. O marido precisou deixar o emprego por causa da doença e ela fez o mesmo durante quatro meses. “Sem renda, tivemos de pedir empréstimos para pagar as despesas médicas e sobreviver. A fim de pagar o primeiro, pedimos um segundo. A fim de pagar o segundo, pedimos um terceiro... Assim começaram os aborrecimentos. E tudo isso só para continuar vivos.” Doença do cônjuge, correia de transmissão do carro que se solta, empréstimo de juventude que não se paga nunca: a perspectiva de falência pessoal é cada vez menos abstrata, mesmo no seio da classe média.
Para a indústria do crédito, os Shrout são os clientes perfeitos. Ela obteve seu diploma na Universidade do Oregon em meados dos anos 1990. O preço do curso foi “bastante módico, sobretudo se comparado ao de hoje”. No primeiro dia, espalhadas pelo campus, havia grandes tendas onde, num clima de festa, se ofereciam aos alunos cartões de crédito. “Os vendedores eram jovens como nós, vestiam camisetas coloridas. Quem ficava com um cartão ganhava um almoço grátis ou um frisbee. Uma idiotice, mas quando se tem 17 anos é uma maravilha. Dizemos a nós mesmos que poderemos fazer o que quisermos com um simples toque no teclado: mais tarde, ganharemos o suficiente para pagar...” Em quatro anos de curso, ela solicitou cinco cartões diferentes. “Era uma maneira de resolver os problemas.” Quando se casou, aos 28 anos, ganhava US$ 25 mil por ano, mas devia US$ 13 mil; seu marido, US$ 8 mil.
Os pais dela fizeram seus estudos no Boston College, “mas nenhum pediu empréstimo para pagá-los, como é regra atualmente”. No caso do pai, um emprego num posto de gasolina mais a bolsa bastaram. Em 2015, um ano de estudos no Boston College custa US$ 48.540 – US$ 62.820 com alojamento no campus, conforme a localização do estabelecimento.
As famílias norte-americanas não fazem dívidas para ter uma piscina ou um 4×4, mas para garantir o essencial: casa, saúde, carro, educação, seguros. “Em outros países mais bem organizados, as pessoas não pagam pela saúde ou pela educação”, suspira com inveja Shrout. “Se eu fosse mãe na Suécia, nossa história seria bem diferente. Teria tido mais de dez dias de licença-maternidade. Não quero acusar a sociedade ou as empresas de crédito, pois a culpa também é minha. Mas, nos Estados Unidos, os jovens contraem mais dívidas do que em qualquer outra parte. Ficam entregues a si mesmos, o que é uma porta aberta para situações dramáticas. O sistema todo se torna predador.”
As dívidas do senhor Rivera ou da senhora Shrout são apenas pequenos córregos. Na escala nacional, formam o rio gigantesco dos empréstimos que engrossou 22% nos últimos três anos. Em 2014, o crédito ao consumidor atingiu um pico histórico de US$ 3,2 trilhões...
1 “The cumulative costs of predatory practices” [Os custos acumulados de práticas predatórias], Center of Responsible Lending, Durham, jun. 2015.
2 Ver Serge Halimi, “Pauvreté à américaine dans l’autre Californie” [Pobreza à americana na outra Califórnia], Le Monde diplomatique, set. 1988.
3 David Caplovitz, The Poor Pay More: Consumer Practices of Low-Income Families [Os pobres pagam mais: práticas de consumo das famílias de baixa renda], Free Press, Nova York, 1967.
4 DeNeen L. Brown, “The high cost of poverty: Why the poor pay more” [O alto custo da pobreza: por que os pobres pagam mais], The Washington Post, 18 maio 2009.
5 “Largest auto insurers frequently charge higher premiums to safe drivers than to those responsible for acidentes” [As grandes companhias de seguros de automóveis frequentemente cobram mais dos bons motoristas do que daqueles que provocaram acidentes], Consumer Federation of America, Washington, 28 jan. 2013.
6 DeNeen L. Brown, op. cit.
7 Rachel L. Swarns, “For a worker with little time between 3 jobs, a nap has fatal consequences” [Para uma trabalhadora com pouco tempo livre entre três empregos, um cochilo tem consequências fatais], The New York Times, 28 set. 2014.
8 Russell D. Kashian, Ran Tao e Claudia Perez-Valdez, “Banking the unbanked: Bank deserts in the United States” [Bancos para quem não tem banco: desertos bancários nos Estados Unidos], Universidade de Wisconsin, Madison, 2015.
9 Lisa Servon, “The high cost, for the poor, of using a bank” [O alto custo, para os pobres, do uso de um banco], The New Yorker, 9 out. 2013.
10 “Graphic: Checking account risks at a glance” [Gráfico: visão rápida dos riscos de uma conta-corrente], The Pew Charitable Trust, Filadélfia, 2011.
11 “Where Good Credit Is Sexy!!” [Onde ter crédito é sexy!!]. Disponível em: .
12 “Data point: credit invisibles” [Ponto de dados: créditos invisíveis], Consumer Finance Protection Bureau, maio 2015. Disponível em: .
13 Ver Christopher Newfield, “La dette étudiante, une bombe à retardement” [A dívida estudantil, uma bomba de efeito retardado], Le Monde diplomatique, set. 2012.
14 As leis de usura norte-americanas derivam da common law inglesa. Cf. Steven Mercatante, “The deregulation of usury ceilings, rise of easy credit, and increasing consumer debt” [Desregulamentação dos tetos de usura, ascensão do crédito fácil e aumento crescente da dívida dos consumidores], South Dakota Law Review, Vermillion, 2008.
15 “Frontline”, PBS, 23 nov. 2004.
16 Ibidem.
Maxime Robin
Jornalista
Ilustração: Filipe Rocha
NADANDO EM PRIVILÉGIOS
Em 5 de junho de 2015, em McKinney, no subúrbio de Dallas (Texas), um policial branco foi filmado enquanto maltratava adolescentes negros em trajes de banho. Vemos o agente perder a cabeça, apontar a arma, empurrar e imobilizar uma garota de 15 anos de biquíni. Os jovens tinham ido comemorar um aniversário à beira da piscina do Craig Ranch, uma gated community (condomínio fechado). Muitos eram negros e nem todos tinham o direito de estar lá. Num contexto nacional de brutalidades policiais em série, o vídeo amador provocou um escândalo. Na revista mensal The Atlantic, o historiador e jornalista Yoni Applebaum analisa o incidente de um ponto de vista racial e histórico. Observa aí o resultado da privatização de serviços públicos para afastar grupos indesejáveis – no caso, os negros. “Antes de 1950”, lembra, “os norte-americanos nadavam nas piscinas municipais tão frequentemente quanto iam ao cinema. Havia poucos clubes de natação, e as raras piscinas particulares eram sinal de grande riqueza.” Meio século depois, “o número de piscinas particulares nos Estados Unidos passou de 2.300 para mais de 4 milhões”.1 Para mergulhar nelas, é preciso morar em certos bairros ou se tornar sócio de um clube. Applebaum se apoia no historiador Jeff Wiltse para afirmar que a luta pelos direitos civis está diretamente na origem desse processo: “Muitos brancos abandonaram as piscinas públicas após o fim da segregação, mas não deixaram de nadar. Construíram suas próprias piscinas, em casa ou em clubes náuticos, de modo a poder controlar a classe social e a cor da pele dos banhistas”.2
Essa evolução não diz respeito só às piscinas. O oximoro “espaços públicos de propriedade privada” define todo espaço cujo acesso é estritamente regulamentado pelas empresas proprietárias ou por quem de direito. Esse fenômeno se multiplicou e compreende hoje parques e algumas praias ou beiras de lagos.
Michael Sandel, professor de direito em Harvard, debruçou-se sobre a economia dos “salvo-condutos” vendidos às pessoas e que valem em praticamente todas as ocasiões.3 “Nunca tivemos realmente um debate sobre esse assunto”, observa. “Até onde deixaremos agir o mercado? Em que medida ele serve ao bem público e a partir de que ponto o prejudica?” Hoje, pode-se pagar para furar a fila em inúmeros lugares, como parques de diversões. Nas estradas de Minneapolis, Seattle, San Diego e outras metrópoles congestionadas dos Estados Unidos, podemos comprar o acesso à via rápida com tarifas que variam conforme o grau do engarrafamento. A possibilidade de adquirir privilégios estendeu-se até mesmo... às prisões: no condado de Santa Barbara, Califórnia, um detento pode conseguir uma cela mais confortável pagando US$ 90 por noite. Sandel menciona também novas maneiras de ganhar dinheiro: servir de cobaia humana para a indústria farmacêutica (por volta de US$ 7,5 mil, às vezes mais, se o tratamento for perigoso ou complicações puderem ocorrer) ou alugar seus serviços a empresas que aliciam mercenários para lutar no Oriente Médio (US$ 1 mil por dia).
A demonstração assume novos contornos quando, nesse inventário da mercantilização pós-moderna, o jurista descobre uma transação que subverte o ideal democrático norte-americano. Ela ocorre diariamente no Capitólio de Washington. As reuniões do Congresso são públicas, mas a fila para assistir a elas é interminável, para grande frustração dos lobistas. Assim, empresas recrutam pessoas para ficar na fila em seu lugar, mediante pagamento. Esses indivíduos, afirma Sandel, são na maioria gente sem domicílio fixo. “No entanto”, lamenta, “todos deveriam ter livre acesso às instituições.”
O valor que a sociedade de mercado coloca mais em perigo, segundo Sandel, é a communality, o senso de vida coletiva. Ele próprio foi criado em Minneapolis em meados da década de 1960 e era torcedor dos Twins, a equipe de beisebol da cidade. No estádio, todos os lugares custavam quase o mesmo: US$ 3,50 para a tribuna de honra, US$ 1 para as arquibancadas. “Patrões e empregados faziam fila para comer os mesmos cachorros-quentes e beber as mesmas cervejas sem espuma. Quando chovia, todos se molhavam... Isso acabou. Se você for a um estádio hoje, verá espaços reservados, envidraçados, onde a elite se isola do resto do mundo. Já não há mistura de classes. Já não há fila única para os banheiros. Se chove, nem todos se molham.”4 Cada vez mais, acrescenta, ricos e pobres “vivem vidas separadas, vão à escola e passeiam sem se cruzar”. Os tobogãs da piscina de McKinney são testemunhas dessa transformação social. A cidade tem três piscinas públicas, todas no lado onde se concentra a baixa renda. Nos bairros prósperos, as piscinas são particulares ou semiparticulares, com acesso exclusivo e controlado. No caso do Craig Ranch, cada condômino tem direito a um número de lugares limitado, que distribui a seu gosto.
A piscina onde nadavam os adolescentes que foram comemorar o aniversário em McKinney não era pública, mas reservada aos moradores de um bairro social e racialmente muito homogêneo. Esses moradores eram donos de um antigo bem comum que se tornara privilégio deles. (M.R.)
1 “McKinney, Texas, and the racial history of American swimming pools” [McKinney, Texas, e a história racial das piscinas norte-americanas], The Atlantic, Washington, 8 jun. 2015.
2 Jeff Wiltse, Contested Waters: A Social History of Swimming Pools in America [Águas contestadas: uma história social das piscinas na América], The University of North Carolina Press, Chapel Hill, 2010.
3 Michael J. Sandel, What Money Can’t Buy: The Moral Limits of Markets [O que o dinheiro não pode comprar: os limites morais dos mercados], Farrar, Straus and Giroux, Nova York, 2013.
4 Ver Richard A. Keiser, “Sportifs de salon” [Esportistas de salão], Le Monde diplomatique, jul. 2008.

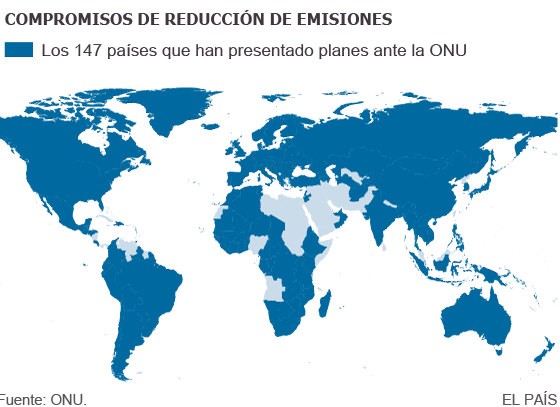
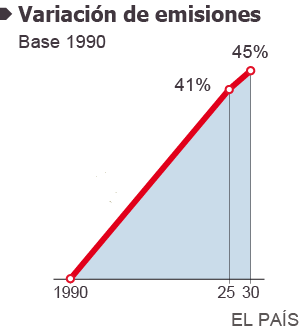
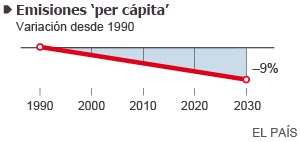


 Image copyrightDaniel CimaImage captionJúlia Lima e Paula Martins (à esq.), da ONG Artigo 19, apresentam denúncia contra Estado brasileiro na Comissão Interamericana de Direitos Humanos
Image copyrightDaniel CimaImage captionJúlia Lima e Paula Martins (à esq.), da ONG Artigo 19, apresentam denúncia contra Estado brasileiro na Comissão Interamericana de Direitos Humanos


